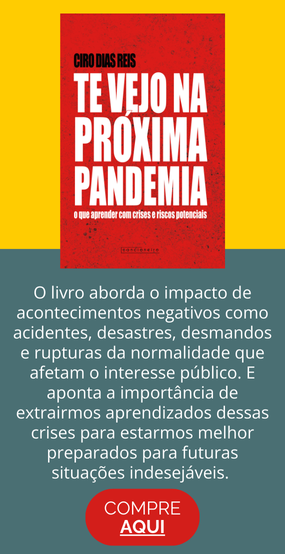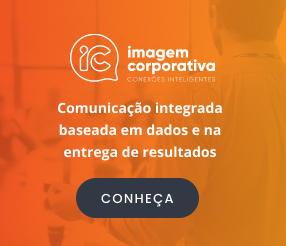Na quinta-feira da semana passada, líderes da União Europeia se comprometeram a trabalhar conjuntamente para garantir a segurança do continente. Os 27 países do bloco endossaram a criação de novas iniciativas de defesa e aprovaram uma linha de crédito de 150 bilhões de euros para financiar os projetos.
O grupo também deu sinal verde para a flexibilização das regras fiscais que limitam o endividamento dos países da região, abrindo espaço para o aumento dos investimentos militares. A decisão, embora ainda dependa de ratificação por parte dos congressos de cada país-membro, é, na prática, um divisor de águas.
Essa opção coletiva, impensável antes da invasão da Ucrânia pela Rússia e da decisão do presidente americano Donald Trump de virar as costas para o continente, marca o fim de uma longa parceria entre Estados Unidos e Europa iniciada após a Segunda Guerra Mundial. Ao distanciar-se de Bruxelas e de outros parceiros tradicionais, como Canadá e México, Washington adota um novo padrão de protagonismo internacional.
Sai agora de campo o viés das últimas décadas voltado ao multilateralismo (com todas as vantagens que isso trouxe para Washington) para dar lugar a uma reencarnação bem mais zangada e ruidosa da doutrina do “big stick” (grande porrete) do presidente americano Theodore Roosevelt, que liderou o país de 1901 a 1909. Ele defendia a seguinte fórmula diplomática para proteger os interesses do país: “Fale baixo e carregue um grande porrete; você irá longe”.
Exemplos daquele viés multilateralista que norteou as estratégias geopolítica e econômica dos Estados Unidos durante as últimas oito décadas podem ser encontrados não apenas em governos democratas, mas também em governos republicanos.
Na gestão Joe Biden, esse compromisso se refletiu no apoio à Ucrânia logo após a invasão russa, bem como na criação do Aukus, pacto de segurança mútua entre EUA, Reino Unido e Austrália. Na gestão Barack Obama, ocorreu o fortalecimento dos laços com a Europa e um importante distensionamento nas relações com Cuba. Outro democrata, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos entre 1945 e 1953, promoveu o Plano Marshall, um gigantesco projeto de apoio financeiro destinado à reconstrução da Europa. Também na gestão de Truman, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos e destinada a proteger a Europa contra uma eventual ameaça militar da União Soviética.
Pelo lado republicano, há exatos 40 anos, durante a gestão do presidente americano Ronald Reagan, foi criado um plano pelo então secretário do Tesouro, James A. Baker, que previa a concessão de novos empréstimos a países em desenvolvimento que estavam em condições de vulnerabilidade: dívidas externas de difícil pagamento, baixo nível de reservas cambiais e alto potencial de tensões sociais. O dinheiro estaria condicionado à implementação de reformas macroeconômicas, tais como privatizações, diminuição de barreiras de importação e maior flexibilização para investimentos.
A abrangência e os resultados pretendidos pelo então chamado Plano Baker não foram alcançados, e os novos empréstimos aumentaram ainda mais as dívidas dos governos que haviam aderido ao mecanismo. Uma das razões para isso foi o prazo extremamente curto para o pagamento dos empréstimos, incompatível com a capacidade dos países envolvidos de, ao mesmo tempo, reorganizar suas economias e honrar aqueles compromissos.
Três anos depois, havia ficado claro o fracasso da iniciativa, mas os Estados Unidos mantiveram a diretriz. Assim, em março de 1989, exatos 36 anos atrás e já na gestão do presidente George Bush, foi feita uma nova tentativa de solucionar o alto endividamento e a asfixia financeira de países situados na área de interesse do governo americano.
Nascia então o Plano Brady, também batizado com o nome de seu criador, o então recém-empossado secretário do Tesouro, Nicholas F. Brady. O Plano Brady tinha uma outra modelagem: pretendia renovar a dívida externa de economias em desenvolvimento mediante a troca da dívida velha por dívida nova via lançamento de bônus com vencimentos em prazos mais alongados, os quais logo foram apelidados de bradies.
Aqueles bônus contemplavam o abatimento dos encargos através da redução do principal da dívida ou redução nos juros, garantindo, agora sim, oxigênio para as combalidas finanças de vários governos. O compromisso dos países beneficiados, em contrapartida, deveria ser a promoção de reformas liberais em seus mercados, revisitando assim a meta do Plano Baker.
Houve muitas críticas a essa segunda tentativa do governo americano de administrar as dívidas externas de nações em desenvolvimento (que preocupavam bancos credores, principalmente os de origem americana). Mas, com o tempo, prevaleceu a visão de que, embora não tenha resolvido definitivamente o problema do endividamento de diversas economias, o Plano Brady permitiu que elas administrassem suas finanças de forma mais controlada.
A América Latina foi a região mais envolvida com o Plano Brady, e de sua rodada inicial participaram Argentina, Brasil, Costa Rica, Equador, México, República Dominicana e Uruguai. Outras adesões: Bulgária, Marrocos, Nigéria, Filipinas e Polônia.
O Brasil desenhou sua participação no Plano Brady a partir de julho de 1992 e fechou um acordo em abril de 1994. A dívida negociada dizia respeito a compromissos financeiros resultantes de empréstimos de médio e longo prazos contraídos por entidades do setor público junto a instituições privadas, além de juros não pagos por elas a credores internacionais. Em substituição a essa dívida, que somava aproximadamente US$ 55 bilhões, o governo brasileiro emitiu diversos tipos de bônus, neutralizando assim riscos e vulnerabilidades que inibiam a estabilização e o crescimento da economia.
Os planos Baker e Brady refletiram, na prática, o protagonismo multilateral de dois governos republicanos nos Estados Unidos que viam valor (e oportunidades de negócios) no equilíbrio econômico, na geração de confiança e nas relações políticas com países parceiros. Ou seja, algo na linha do famoso ganha-ganha.
A nova abordagem do atual governo americano vai em outra direção e já era esboçada por Donald Trump décadas atrás.
No mês de setembro do longínquo ano de 1987, tempos da Guerra Fria entre os EUA e a então União Soviética, Trump pagou US$ 94 mil para publicar anúncios em jornais americanos criticando aquilo que considerava ser um proveito indevido por outros países em relação aos Estados Unidos (especialmente o Japão, naquela altura uma potência econômica proporcionalmente tão onipresente quanto a China é hoje).
Além de defender a taxação de outros países que supostamente se beneficiavam das relações com os Estados Unidos e de sua proteção militar, o texto era recheado de ataques.
“Não há nada de errado com a Política de Defesa Externa dos Estados Unidos que um pouco de coragem não possa curar”, dizia a manchete do anúncio. Logo abaixo, um esclarecimento: “Carta aberta de Donald J. Trump sobre as razões pelas quais os Estados Unidos deveriam parar de pagar para defender países que podem se defender”.
Um dos trechos dizia: “Por que essas nações não pagam para os Estados Unidos pelas vidas humanas e bilhões de dólares que estamos perdendo para proteger seus interesses?” Mais adiante, acrescentava: “O mundo dá risada dos políticos americanos enquanto protegemos navios que não possuímos e transportamos o petróleo de que não precisamos, destinados a aliados que não nos ajudarão”.